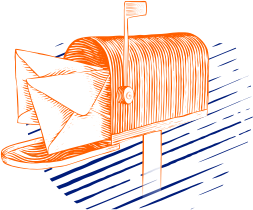January 11, 2018
Jake Johnston
The Intercept, 11 de janeiro, 2018
Às 5 da manhã de 13 de novembro, mais de duzentos policiais haitianos invadiram a área de Grand Ravine em Port-au-Prince. Houve uma série de explosões, seguidas de disparos. Foram seis horas de comoção, durante as quais a região permaneceu sitiada.
O que havia começado como uma operação contra gangues num bairro pobre e esquecido de um país igualmente pobre e esquecido terminou na execução sumária de civis inocentes num campus escolar.
Os policiais trabalhavam em parceria com a Missão das Nações Unidas de Apoio à Justiça no Haiti (MINUSJUSTH), iniciada em outubro — uma nova versão, sem o componente militar, da Missão para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH), que começou em 2004, logo após o golpe de estado, quando a ONU enviou milhares de soldados com a tarefa de restaurar a estabilidade e reforçar o contingente da polícia nacional. O Brasil teve um papel marcante no Haiti, tendo mandado, de 2004 a 2017, 26 contingentes e 37 mil homens. Mas, depois da resolução do Conselho de Segurança que determinou a retirada gradual das forças da MINUSTAH, os últimos 816 militares brasileiros que participavam da missão regressaram ao país em setembro do ano passado. Atualmente, há apenas dois policiais militares brasileiros participando da nova missão, a MINUSJUSTH.
Embora a ONU tenha dado uma declaração alguns dias depois da invasão, pedindo às autoridades haitianas que investiguem o caso com celeridade, não admitiu publicamente seu papel na operação. Em uma declaração enviada por e-mail no final de dezembro, apesar de tentar se distanciar da responsabilidade pela morte de civis, uma representante da ONU confirmou pela primeira vez a The Intercept que a missão havia ajudado a planejar a invasão.
“As referidas mortes de civis não faziam parte do plano da operação. Antes, foram fruto de ação unilateral por parte de agentes [da polícia haitiana] após a conclusão da operação”, afirmou por e-mail Sophie Boutaud de la Combe. Ainda de acordo com a ONU, a invasão da escola foi realizada sem autorização, sem consulta prévia à hierarquia policial e fora do plano operacional.
Boutaud de la Combe afirmou ainda que, no dia seguinte à invasão, a ONU “realizou uma apuração interna com todos os comandantes que participaram da operação”. A investigação interna corroborou a conclusão de que os agentes da ONU não efetuaram disparos, tendo apenas “guardado o perímetro” ao redor da escola, afirma ela.
“Nenhuma das unidades [da polícia da ONU] seguiu até o local no Colégio Maranatha onde se deram os referidos assassinatos”, declarou a representante. “A parte planejada da operação correu relativamente bem. Não fazia parte do plano a iniciativa unilateral de alguns membros da polícia nacional haitiana, que agiram fora do quadro operacional, sem prévia notificação aos superiores, sem autorização e contradizendo o próprio planejamento da operação”.
Quando cheguei ao campus do Colégio Evangélico Maranatha com uma equipe de transmissão da Al Jazeera, quatro dias depois da invasão, ficou imediatamente claro que algo de hediondo havia acontecido. O concreto apresentaca manchas de sangue ainda úmidas, que a camada de neblina, que tornava a cidade inusitadamente fria naquela semana, não deixava secar. A água acumulada sobre o ralo entupido do pátio estava tingida de vermelho escuro e ocultava parcialmente um cartucho vazio de gás lacrimogêneo. O cheiro da violência ainda pesava no ar.
Salas e escritórios haviam sido revirados, e o conteúdo de armários, gavetas e estantes estava espalhado pelos andares. A luz se infiltrava pelos buracos deixados pelas balas que haviam penetrado as grossas paredes de concreto. Em algum momento depois da invasão, alguém havia varrido para uma pilha de lixo cinco cartuchos de gás lacrimogêneo e cerca de cem cápsulas de armamento pesado.
Na manhã em que chegamos, alunos e funcionários estavam reunidos para homenagear os que haviam sido mortos. A escola ainda estava fechada. Eles se juntaram em uma pequena sala de aula, fecharam a porta para intrusos como nós, e começaram a cantar. Os hinos religiosos com suas melodias ricas e profundas ecoaram pelo pátio, se misturando aos gritos das vítimas enlutadas e dos familiares ávidos por contar suas histórias.
“Eu quero me matar”, disse-nos Monique Larosse, cujo sobrinho foi morto naquele mesmo pátio alguns dias antes. “Por que eles o mataram se sabiam que ele não era bandido? Ele ia à igreja, estudava, tinha princípios.”
As histórias que Larosse e outros sobreviventes e familiares me contaram deixam claro que algo deu terrivelmente errado naquele dia. Embora ainda haja muito por esclarecer, uma coisa é certa: a narrativa oficial conflita com o que as pessoas de Grand Ravine afirmam ter vivido e presenciado, e a justiça ainda parece distante demais.
Leia mais no The Intercept.
Tradução: Deborah Leão