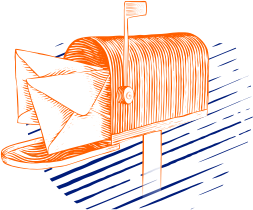September 19, 2013
Mark Weisbrot
The Guardian Unlimited, 18 de setembro de 2013
Em inglês | Em espanhol
Para a versão original em Inglês, clique aqui
A notícia do cancelamento da Visita de Estado da Presidente brasileira Dilma Rousseff à Casa Branca, agendada para o próximo mês, chegou ontem sem surpresa. Documentos vazados por Edward Snowden e divulgados por Glenn Greenwald e pela TV Globo causaram alvoroço no Brasil. De acordo com os documentos e reportagens, o governo dos Estados Unidos espionou as comunicações pessoais de Dilma e tomou como alvo os sistemas de computadores da Petrobrás, a grande companhia de petróleo do Brasil, de propriedade majoritária do Estado.
A reportagem da TV Globo indicou que a informação contida na rede de computadores da Petrobrás em questão poderia ser muito valiosa para companhias petroleiras estrangeiras. O ex Presidente Lula da Silva disse que Obama deveria “desculpar-se pessoalmente perante o mundo”, e Dilma também cobrou um vpedido de desculpas público satisfatório, que não foi dado prontamente.
A divergência com o Brasil chega em um momento de deterioração das relações dos Estados Unidos com a América Latina, especialmente com a América do Sul. Ela é indicativa de um problema muito mais profundo. A recusa do governo americano em reconhecer o resultado das eleições venezuelanas em abril deste ano, apesar de não haver dúvidas sobre estes resultados e em clara oposição ao resto da região, manifestou uma agressividade que Washington não demonstrava desde o apoio ao golpe na Venezuela em 2002. Isso gerou forte reprovação na América Latina, também da parte de Lula e Dilma
Menos de dois meses depois, o Secretário de Estado estadunidense John Kerry abriu uma nova dissuasão, reunindo-se com sua contraparte venezuelana, Elías Jaua – a primeira reunião de tão alto escalão desse tipo de que se tem memória – e reconhecendo implicitamente os resultados eleitorais. Mas novas esperanças foram rapidamente frustradas quando vários governos europeus, agindo claramente em nome dos Estados Unidos, forçaram a aterrissagem do avião do presidente Evo Morales em julho. A Presidente Cristina Kirchner tuitou: “ficaram loucos definitivamente” e a UNASUR (União de Nações Sul-Americanas) emitiu uma forte denúncia. A grave violação da lei internacional e das normas diplomáticas foi outra exuberante demonstração da falta de respeito de Washington pela região.
Parece que a cada mês há uma nova indicação de quão pouco o governo Obama se preocupa em melhorar essas relações. Em 24 de julho, o FMI, sob instruções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, abandonou seus planos de apoiar o governo argentino em sua batalha legal contra os “fundos abutre”. O FMI já havia se comprometido previamente a apresentar um sumário à Suprema Corte estadunidense em apoio ao governo argentino. Isso não se dava por amor à Argentina, mas porque a decisão de juízos de instâncias inferiores – que para satisfazer os fundos abutre buscava evitar que a Argentina pagasse 92% de seus credores – foi vista como uma ameaça a futuras reestruturações da dívida e, portanto, ao sistema financeiro mundial. No entanto, se permite que lobistas anti-Argentina prevaleçam, mesmo contra a legítima preocupação do Departamento de Tesouro pela estabilidade financeira internacional.
Há razões estruturais para os repetidos fracassos do governo Obama em aceitar a nova realidade de governos independentes na região. Embora o Presidente Obama possa querer melhores relações, está disposto a gastar com isso mais ou menos dois dólares em capital político. E isso não é o bastante. Quando tentou indicar um embaixador na Venezuela em 2010, por exemplo, os republicanos (incluindo o gabinete do então Senador Richard Lugar) tiveram sucesso em fazer afundar a iniciativa.
Para o Presidente Obama, relações ruins com a América Latina geralmente não tem consequências eleitorais. Ao contrário do Afeganistão, do Paquistão, da Síria e outras áreas de conflito armado e guerra potencial, aí não há perigo iminente de que algo possa explodir em suas mãos e causar danos administrativos para seu governo ou partido. A principal pressão eleitoral vem daqueles que querem oposição mais agressiva aos governos de esquerda – por exemplo os cubano-americanos da Flórida e seus aliados no Congresso, que atualmente prevalecem na Casa. A maior parte do establishment da política externa não se importa com a região de modo algum, e aqueles que se importam compartilham principalmente a visão de que a virada à esquerda é algo temporário, que pode e deve ser revertido. Enquanto isso Washington expande sua presença militar nas áreas onde tem controle (por exemplo em Honduras) e se dispõe a apoiar a derrubada de governos de esquerda quando surja uma oportunidade (Honduras em 2009e Paraguay no ano passado).
Em 1972, o Presidente Richard Nixon fez uma visita histórica à China, que inaugurou uma nova era nas relações Estados Unidos-China. Ele expressou diversas razões para a mudança na política: “Estamos fazendo a coisa da China para ferrar os russos e nos ajudar no Vietnã e manter os japoneses na linha”, disse a seu assessor de segurança Henry Kissinger. Mas ele também reconhecera algo importante, quase 22 anos depois da revolução chinesa: a independência daquele país não seria mais revertida.
Infelizmente, Washington ainda não chegou à mesma conclusão sobre a América Latina, especialmente sobre a América do Sul, cuja “segunda independência” é possivelmente uma das mudanças geopolíticas mais importantes ocorridas no mundo nos últimos 15 anos. Praticamente não há reconhecimento no establishment da política externa aqui – tanto dentro quanto fora do governo – de que algo importante mudou e de que o governo dos Estados Unidos deve aceitar essas mudanças e alterar sua política levando-as em conta. Até que isso aconteça, não esperem relações mais calorosas entre Estados Unidos e América Latina.
Mark Weisbrot é co-diretor do Center for Economic and Policy Research, em Washington. Ele é também presidente da organização Just Foreign Policy.